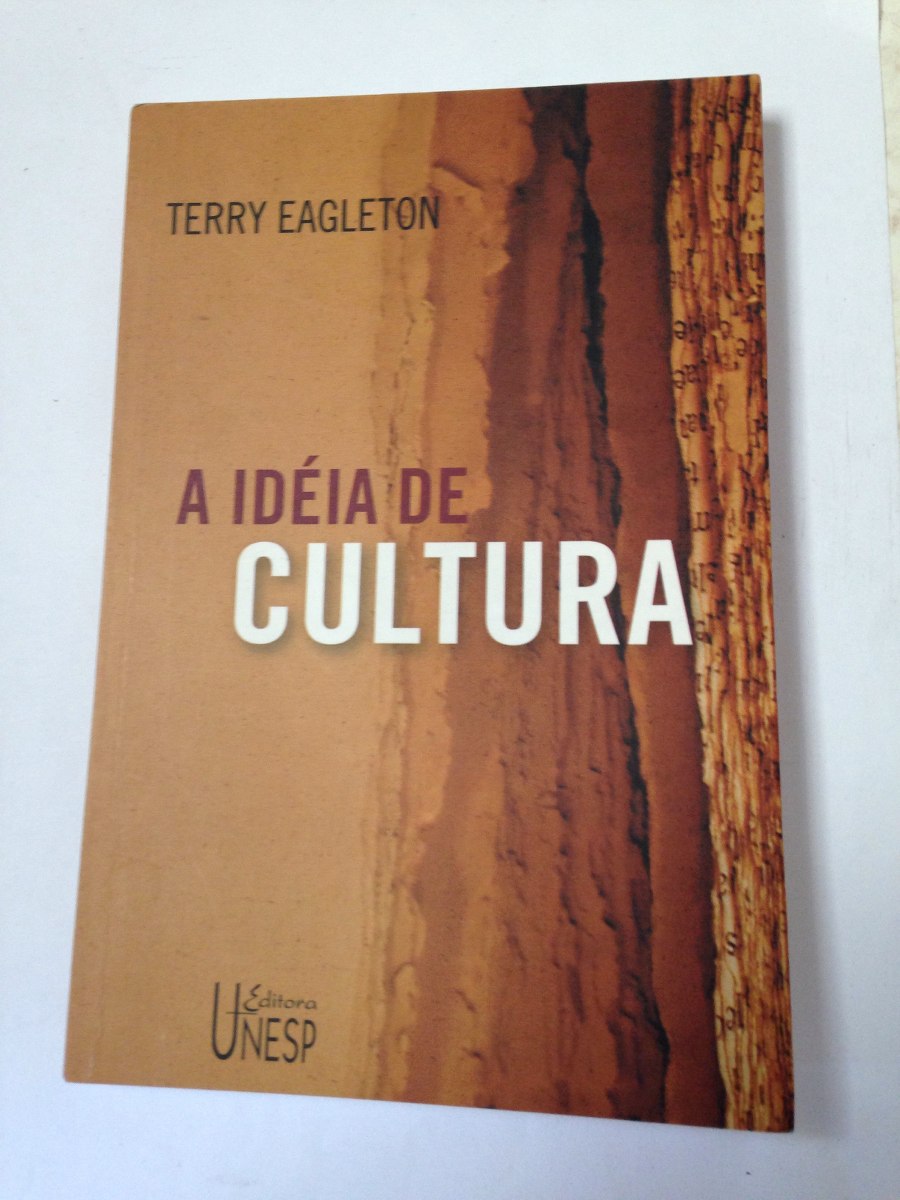Cristina Monteiro de Queiroz
Mestranda em Sociologia Urbana na Universidade de Brasília (UnB). E-mail: cristinaqueiroz@hotmail.com
WACQUANT, Loic. Os condenados da cidade: estudos sobre a marginalidade avançada. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 198p.
O livro é uma coletânea de artigos do autor escritos entre os anos de 1992 a 1999 em periódicos nacionais e internacionais, acrescido de uma palestra ministrada no 17º Encontro Anual da Anpocs no ano de 1993 e de um capítulo do livro Logic of urban polarization, de 1999.
Pode-se apontar como dois os principais objetivos do autor. O primeiro é indicar que está em início um processo de marginalidade com características peculiares, típicas das sociedades avançadas e que se distingue das formas de marginalidades urbanas usualmente conhecidas desde o pós-guerra, o que o autor conceitua como marginalidade avançada. O segundo é apontar as diferenças existentes nas formas de marginalidade avançada nas sociedades norte-americana e francesa, principalmente.
Wacquant baseia sua análise em evidências empíricas, em dados coletados direta ou indiretamente por ele nas duas sociedades analisadas. Mais especificamente, a região de South Side de Chicago, que faz parte do que ele chama de Cinturão Negro norte-americano, e o Cinturão Vermelho formado pelos bairros operários da periferia parisiense, as banlieues ou cités, principalmente Courconeuve, com uma ênfase maior dada ao conjunto habitacional Quatre Mille. O autor, em todas as suas análises, tem como foco as estruturas externas pois estas, segundo ele, influenciam, mesmo que indiretamente, a produção da consciência.
O livro é constituído por duas partes, além do prólogo, a apresentação feita na Anpocs, e do epílogo. A parte I, intitulada "Transformações do gueto norte-americano na realidade e no discurso público", é composta por dois artigos e tem como objetivo analisar mais profundamente as mudanças ocorridas no gueto e no discurso – tanto político e jornalístico quanto científico sobre a pobreza e a marginalidade, e na própria sociedade norte-americana. Já a segunda parte, também composta por dois artigos, é uma comparação empírica do cinturão vermelho e do negro apontando algumas semelhanças e enfatizando as diferenças, assim como as dificuldades trazidas com a importação de conceitos e modelos de outras realidades sem a devida análise e conhecimento. O epílogo traz, de uma forma mais sistematizada, as características da marginalidade avançada e as críticas aos meios usuais utilizados pelos governos para contorná-la, sugerindo que a melhor maneira seria uma efetiva reconstrução do Estado de Bem-Estar, de forma que se permitissem políticas sociais que fossem além do paradigma de mercado.
Na primeira parte, Wacquant define o conceito de gueto como tipo-ideal da seguinte forma: "formação socioespacial delimitada, racial e/ou culturalmente uniforme, baseada no banimento forçado de uma população negativamente tipificada (...) para um território reservado, no qual essa população desenvolve um conjunto de instituições específicas que operam ao mesmo tempo como substituto das instituições dominantes da sociedade abrangente e como neutralizador contra elas" (p.50).
A partir daí, ele levanta uma série de diferenças entre o que ele chama de gueto comunal dos anos 1960 e o hipergueto, fenômeno recente que vem se configurando nas últimas décadas. Essas mudanças são atribuídas, de maneira geral, a razões econômicas e políticas, tais como: mudanças no mercado de trabalho que causaram uma sobre-representação de desempregados no gueto negro; segmentação racial da mão-de-obra de baixos salários; concentração da pobreza negra via políticas urbanas nitidamente racistas e a redução do escopo do Estado de Bem-Estar norte-americano. De forma resumida, ele atribui grande parte dos problemas que atingem os habitantes do gueto não às tendências impessoais macroeconômicas, mas às opções feitas por uma elite urbana em abandonar o gueto a essas forças e relaciona a violência observada nessas regiões às respostas de violências estruturais sofridas por esses mesmos habitantes.
Outra mudança importante foi a que ocorreu no discurso tanto do senso-comum quanto do científico que tenta entender a pobreza urbana. Houve um deslocamento do que até então era visto como impedimentos estruturais de raça, classe e pobreza para termos de motivações pessoais e patologias sociais.Toda essa nova concepção pode ser explicitada pelo conceito de underclass, "termo que pretende denotar um novo segmento dos pobres das minorias, supostamente caracterizado pela deficiência comportamental e pelo desvio cultural" (p.46). Termo cunhado pelos jornalistas, mas rapidamente apropriado por cientistas sociais.
A genealogia desse conceito é descrita por Wacquant e seu uso agrupado em três famílias segundo suas formas mais recorrentes. A conclusão a que chega o autor é que, antes de ser uma ferramenta de análise, o termo diz mais a respeito de quem o utiliza, ou seja, deve ser estudado como objeto de concepções e (pre)conceitos coletivos e não como um instrumento para mensurar a realidade.
A segunda parte do livro faz uma análise sociológica comparada de duas realidades distintas, mas que têm sido bastante aproximadas pelos discursos políticos, midiáticos e científicos: o pânico moral de que os bairros da periferia francesa se tornem guetos à americana, com uma forte concentração de imigrantes, violência generalizada, maior isolamento e caracterizados pela anomia.
De fato, segundo o autor, existem fenômenos que parecem indicar tal convergência entre as sociedades, tais como algumas características demográficas, e o estigma que os habitantes sentem por viverem em um local de exílio. Entretanto, comparando as estruturas e a formação desses locais, vêem-se grandes diferenças que são desconsideradas e muitas vezes obscurecidas por análises rápidas e superficiais.
Essas diferenças são verificadas através de divergências de tamanho, de níveis de pobreza e de taxas de criminalidade entre as duas comunidades estigmatizadas, assim como níveis de penetração diferentes do Estado nessas comunidades: o Estado francês promove políticas de reurbanização que, apesar de não atingirem as raízes dos problemas que afligem os habitantes – o desemprego e o subemprego – se responsabiliza por esses bairros, diferentemente da política de abandono do governo norte-americano. E o mais marcante é a composição étnica: diferentemente dos Estados Unidos, onde o gueto é constituído majoritariamente por negros, as banlieues são constituídas por uma grande heterogeneidade étnica e, apesar de ter aumentado o número de imigrantes nesses bairros, a maioria da população que neles vive é de famílias francesas.
Em outras palavras, vistas como fenômenos, as duas realidades se confundem: aumento das desigualdades e tensões sociais nessas comunidades, do desemprego crônico e do subemprego, assim como a ineficiência do Estado em lidar com essas questões são características comuns às duas. Entretanto, a intensidade, a forma de segregação, a composição e até mesmo a vivência do estigma pelos habitantes são distintas entre o gueto norte-americano e as banlieues francesas.
Nos Estados Unidos, a segregação é principalmente racial, amparada e / ou tolerada pelo Estado, enquanto que na França a segregação é basicamente de classe: os imigrantes estão sobre-representados nas banlieues, porque estão sobre-representados nas classes mais baixas da sociedade. Além disso, não se deve falar em uma guetização dos bairros operários franceses à medida que um dos elementos constitutivos do conceito de gueto é a presença de instituições relativamente independentes do restante da sociedade e, na realidade francesa, há uma grande participação e interação da população das banlieues com as instituições gerais. Da mesma maneira, Wacquant destaca que o uso de conceitos e modelos de análise norte-americanos, como o termo underclass, nada acrescenta para entender a problemática dos fenômenos urbanos franceses.
Uma preocupação do autor que perpassa o livro todo é mostrar como os habitantes dessas comunidades estigmatizadas passaram de conseqüência a causa, em outras palavras, de marginalizados para marginais, no sentido de serem os responsáveis conscientes por sua situação precária. Pois, em última instância, o pânico moral dos franceses de que seus bairros se tornem guetos está intimamente ligado a um discurso de culpabilização principalmente, neste caso, dos imigrantes.
A convergência, neste caso, seria, não de estruturas sociais, mas de preconceitos de uma elite política aceitos por parte de uma população acomodada que, por ineficiência de políticas públicas, ou mesmo pelo descaso dessas, tendem a encontrar uma explicação rápida e que legitime a sua (não) ação com a "satanização" dos pobres, o como o próprio autor coloca, com uma psicologização de fatores sociais.
Finalmente, no epílogo, o autor sistematiza e conceitua a marginalidade avançada: "novas formas de encerramento social excludente e de marginalização que surgiram – ou se intensificaram –, na cidade pós-fordista como resultado não do atraso, mas das transformações desiguais e desarticuladas dos setores mais avançados das sociedades e economias ocidentais, à medida que repercutem nos extratos mais baixos da classe trabalhadora e nas categorias etnorraciais dominadas, bem como nos territórios que estas ocupam na metrópole dividida" (p.165). Como características da marginalidade avançada são citadas: a forte desigualdade social; a dissociação das tendências macroeconômicas e a melhoria dos bairros pobres; o desemprego crônico; a fragmentação do Estado de Bem-Estar e a concentração da pobreza em territórios demarcados e estigmatizados.
Segundo o autor, os Estados têm agido de duas maneiras em face desse fenômeno: com um aumento do aparelho penal e através de pequenas mudanças nos programas sociais já existentes. Entretanto, segundo ele, a única forma viável para conter a marginalidade avançada seria por intermédio de uma radical reconstrução do Estado de Bem-Estar, onde políticas sociais estariam dissociadas da necessidade de se ter um emprego, como a instituição de uma renda mínima ou um salário cidadão.
Apesar de centrar suas análises em dois países ocidentais desenvolvidos, o autor tem a intenção de expandir os seus instrumentos de análise para que se possa repensar a marginalidade em várias sociedades. Para isso, ele sugere, na apresentação do livro, ferramentas para tal análise. Vale a pena ressaltar que o prefácio do livro – escrito por Luiz César de Queiroz Ribeiro – é, de forma resumida porém interessante, uma tentativa de compreensão da realidade das favelas brasileiras à luz desse instrumental disponibilizado por Wacquant.
Uma contribuição extremamente importante de Wacquant é o questionamento dos conceitos e modelos de análise que ele efetua apesar de não ser um de seus objetivos explícitos. Problematiza, dessa forma, os conceitos que muitas vezes estão em voga nas agências internacionais, mas que, em vez de realizarem trocas de conhecimentos, talvez estejam efetuando, na melhor das hipóteses, intercâmbios de visões enviesadas.
O livro traz contribuições importantes para o entendimento da nova pobreza nas sociedades avançadas alertando para o perigo de análises superficiais que vão ao encontro de interpretações jornalísticas de ampla aceitação do senso-comum. E, ao mesmo tempo em que caracteriza um novo tipo de pobreza – a marginalidade avançada –, aponta para a importância das peculiaridades históricas e culturais das sociedades analisadas a fim de melhor compreender a sua função e a sua estrutura. Apesar de não dialogar muito ao longo do livro com autores brasileiros, exceto algumas poucas citações na apresentação e no prólogo – a palestra da Anpocs –, o autor chega a conclusões semelhantes a de pesquisas recentes sobre as desigualdades sociais brasileiras, como o estudo de Medeiros (2005), quando sugere a ineficiência de políticas que tentam combater a pobreza a partir do crescimento econômico, alegando como única maneira viável a distribuição de renda, apesar de não usarem exatamente essa expressão.
Referência
MEDEIROS, Marcelo. O que faz os ricos ricos: o outro lado da desigualdade brasileira. São Paulo: Hucitec, 2005.
Revista Sociedade e Estado - UNB